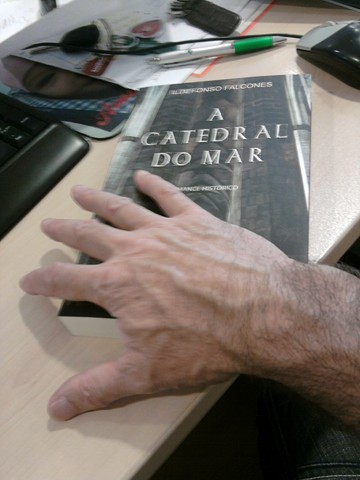
Ovo de sol - desabrochar; sombra, que mão tu me trazes? Presa a essa luz que me fascina, perdição do meu olhar sobre um pouco de tudo, disfarçado na ignorância do pós-além, sem que, realmente, de nada veja!... Oh! Silhueta de mundo, desvenda os teus mistérios, pousa-os na palma da minha mão, perdi-me quando sobre ti derramei o meu olhar, que nublado me quitou da realidade, transferindo-me para a essência diáfana da tua perda neste romper de emoções que de mim e em mim explodiu... tÓ mAnÉ
quinta-feira, 10 de julho de 2014
O menino que sonhava histórias
O menino que sonhava histórias
Por: tÓ mAnÉ
Dedicatória
Dedico esta história de histórias à minha filha Laura Solange que, não tardará a ter cinco aninhos, e deverá começar a aprender que a amizade desprovida de interesse e na sua forma mais pura e límpida, nem sempre é uma palavra apenas de léxico, nem tão pouco deve ser confundida com pré conceitos e preconceitos avolumados e aviltados pelo Homem. Ela existe, ela é real e na sua essência é boa e salutar, apenas terá que ser avaliada para se aferir da sua genuinidade. E, à minha mulher que no seu cepticismo consegue ser uma alma plena de generosidade e por vezes quase pueril.
tÓ mAnÉ
Prefácio
Talvez
Talvez eu veja coisas
Que mais ninguém quer ver
Talvez eu sinta coisas
Que não ouso, nem desejo, verbalizar
Talvez eu esteja louco
E, nem me aperceba que,
Efectivamente, o sou!?...
Talvez!…
Talvez eu ouse coisas
Que ninguém ousou
Talvez eu queira coisas
Que ninguém quis
Talvez eu seja estulto,
Demente,
Neste mundo insano
Talvez!…
Talvez eu entenda coisas
Que são ininteligíveis
Talvez eu pressinta coisas
Que ninguém, nem oráculo,
Saiba sentir ou experimentar
Talvez eu esteja confuso
Com o que não me confunde
Talvez!…
Só!... Só talvez!...
tÓ mAnÉ
Capitulo I – O tÓ mAnÉ
O tÓ mAnÉ era um menino invulgar, apesar do seu aspecto em nada diferir de todos os outros meninos. Excepto, talvez, nas dimensões reduzidas da sua cabeça e das suas orelhas. Tinha umas orelhas de rato e uma cabeça não muito maior que uma laranja-baía.
Invulgar porque à altura que conheci o petiz, e cuja memória já se perdeu nos anos volvidos, este afirmava de pés juntos que conversava com os riachos, os canaviais e o vento, como também, que percebia a voz e as vontades das forças da natureza e dos demais seres vivos, contudo ainda não sabia confabular e dialogar com estes elementos ancestrais.
Afirmação tão estranha quanto singular, pensei para com os meus botões, ademais proferida pela boca de um rapazito franzino e esguio, de joelhos ossudos numas pernas altas, magras, aparentemente desengonçadas, lembrando uns andarilhos, contudo ágeis, de sorriso fácil e franco, de poucas palavras e de olhos irrequietos onde bailavam o brilho com o laivo ténue da tristeza e uma argúcia acutilante banhada num mar de ingenuidade quase dolorosa.
Apesar da sua tenra idade, não lhe faltavam convicções e sobejavam-lhe certezas, quer na postura irreverente, todavia dócil, quer nas afirmações ousadas. Invulgar para quem trás à cinta, dependurados, seis ou sete Invernos.
Capitulo II – O encontro
Era primavera já avançada, lembro-me bem. O tempo estava ameno e convidava a longas passeatas pelos campos plenos de vida, som e cor. A natureza exibia toda a sua beleza e exuberância.
Foi num destes passeios, em que as minhas pernas adquiriram iniciativa e vontade própria arrastando-me para os locais mais aprazíveis, mais incríveis e prodigiosamente mágicos que se possa imaginar, que o vislumbrei pela primeira vez. Estava sentado num penedo à beirinha de um riacho, conhecido como o ribeiro dos Jarros, no sopé nascente do cerro da ermida da Nossa Senhora da Piedade, cercado por um canavial e onde brotava uma fonte natural, a fonte do Camalhão. O local estava escondido do mundo, perto de tudo e longe da vista de todos, um paraíso que Deus reservou ao Homem, aos rebanhos e a todos a que o calor e a sede atentam.
Atento, pensativo, compenetrado, algo taciturno observava contemplativo a água que brotava da fonte para o pego Fundo, num gorgolejo constante, até parecia que toda a magia do universo se concentrava naquele pequeno espaço fresco e esconso. Ali estava numa quietude inaudita, banhado por um raio de luz, como se uma estrela dentro da redoma do infinito do universo se acendesse só para ele.
Vislumbrei-o logo que entrei naquele recanto edílico. Não se confundia na dispersão da natureza, antes destoava. Envergava umas calças curtas de um azul forte, uma camiseira de manga curta de um xadrez cinza e creme, umas meias a meia canela, também de azul forte e umas sapatilhas Sanjo, sujas e gastas do muito uso, mas que outrora foram brancas. Na mão direita pendia, murcha, uma fisga – atiradeira, assim a designava, de elásticos pretos, provindos de uma câmara-de-ar de uma motorizada, de uma força seca de zambujo e de um fundilho de cabedal negro, toda a estrutura bem atada com fio guita encerado ou fio de sapateiro. Na outra mão bailavam uma boa meia dúzia de seixos rolados, prontos para serem, em altura apropriada, arremessados pela atiradeira.
Nos seus cabelos loiros, voavam, à brisa morna da tarde, promessas de futuro. Na sua pele trigueira do sol, de quem fura os dias em liberdade, lia-se um coração voluntarioso e generoso e no relance rápido e atento do brilho perfurante dos seus olhos, vi a sombra e o semblante de um falcão.
A forma de aproximação, à sorrelfa, gizada por mim, não lhe foi de todo alheia, todavia esperada, calma e friamente estudada. Ficou-se por um olhar soslaio e furtivo, infecto de um certo quê de aborrecimento. Afinal, eu, não era mais nem menos que o elemento indesejável da paisagem, o intruso no seu santuário.
Não me intimidei apesar de o estar, pois senti-me desconfortável com o comportamento e a indiferença revelada pelo gaiato feito Deus. Olhei em volta para me acomodar ao ambiente e disfarçar a minha incomodidade. Escolhi, criteriosamente, um pedregulho, confortavelmente distante. Sentei-me. E, calado observei e observei, tentando esquecer a minha condição de intruso e o mau estar provocado pela omnipresença muda do moço.
A tarde foi-se esvaziando lentamente, enquanto a minha curiosidade, por tão invulgar criatura, enchia desmedidamente. Impávido e sereno, o rodar do sol no horizonte, parecia não compartilhar da minha inquietude e, não fora isso, tudo parecia como que congelado no tempo…
E, neste marasmo, permaneci quieto, mudo e expectante, apenas atento ao reboliço e ao burburinho reinante.
Como num truque de ilusionista o mundo virou-se, num simples momento, de pernas para o ar. O silêncio caiu do céu e ribombou forte em terra, um dos calhaus rolou da mão para o cabedal do fundilho da atiradeira, as borrachas esticaram-se, a pedra partiu certeira, um som oco e um miado estridente sopraram o ar abafado de fim de tarde, substituindo-o pela risada fresca cortante do rapaz e pela chilreada aflita na revoada atrapalhada do melro de bico amarelo, fedendo a quietude mágica do lugar.
Levantou-se, meio trôpego, de sorriso vitorioso nos lábios, aconchegando o fundilho dos calções e botando a fisga e os calhaus no bolso. Olhou-me de relance, sorriu e disse: O malvado do gato pardo é manhoso, quer caçar o melro de bico amarelo, que se julga espertalhão, anda a querer comprar a morte, pois tanta vez vai a cantarinha ao poço que um dia lá deixará o gargalo.
E, de sorriso ainda bailando nos lábios, pausadamente continuou.
- Teve o que merecia, vai ver que, enquanto se lembrar da mordedura do calhau, não mais vai aqui aparecer. Vossemecê quer apostar?
E sem mais nem porquê, começou-me a contar como tinha descoberto as intenções do gato relativamente ao melro, bem como as ardilosas tentativas goradas, quer pela destreza do melro, quer pelas ironias do destino.
Tirei o chapéu. Cocei a careca suada. E, não pude evitar, uma sonora gargalhada que atrás dela trouxe outra e outra, até que ambos rimos a bom rir, a bandeiras despregadas.
O caminho de regresso à estrada foi junto entre risadas e poucas palavras. Nesta cada um seguiu o seu destino.
Rindo ainda, agora sozinho, enquanto cumpria o caminho que restava até casa, pensei: O rapaz é um diabrete feito gente.
Capitulo III – A amizade
Nessa noite foi-me difícil conciliar o sono, os pensamentos corriam como loucos, movidos pelos acontecimentos vividos naquela tarde. Empurrando-me, inexoravelmente, na direcção daquele recanto perdido, daquele pirralho feito homenzinho pequeno, daquela ausência de malvadez, e simultaneamente àquele desprendimento de vida aliado àquela preocupação tão singela quanto ingénua. Seria aquela cabecinha minúscula capaz de tanta sagacidade? Ou teria sido apenas uma ocasionalidade solta dos caprichos do destino?
A verdade é que o sono teimava e vencia o cansaço numa guerra absurda e cruel de perguntas sem respostas, que surgiam umas atrás das outras como água a despenhar-se de uma cascata sob uma zona de remanso, a bacia ou colo, onde paravam e rodopiavam por instantes para recuperar da fadiga do turbilhão descendente e donde partiam de imediato, mais tranquilamente, para dar lugar às sobrevenientes, num constante vir e ir que me inquietava e despertava o espírito.
Noite dentro, quase derrubado pelo cansaço crescente e já no limiar do consciente para o inconsciente, onde se dilui e confunde o que é com o que não, e onde o real e o irreal se imbuem num só elo, formando na penumbra da mente, aquando, rasgada e trespassada por um flash de luz e um estrondo brutal, qual raio e trovão em noite escura, a pergunta que, abruptamente, ilumina e ribomba avassaladora o meu ser: Nada sei sobre o rapaz, quem é ele, como se chama, como o poderei de novo encontrá-lo?
Aos primeiros laivos purpúreos riscados no horizonte pela aurora, saltei da cama, como se as minhas pernas funcionassem duas molas elásticas e o resto do corpo como um boneco articulado, obediente, destituído de vontade própria, todavia com um objectivo tatuado na alma: Descobrir a criaturinha que tanto tormento me valera e concedera noite adentro.
Decidi, assim que toquei com os pés no chão, que nessa mesma tarde iria visitar o local onde o avistara pela primeira e única vez. Talvez lograsse encontrar o seu vulto, estático, alcandorado no penedo vigiando a bacia serena da fonte. Engano o meu. O local estava intacto porém a beleza mística conferida pela presença do rapaz, agora ausente, tinha-o despojado do encanto relegando-o a mais um local comum, que em nada diferia de muitos outros. Aquele idílio, na Terra, tinha deixado de sê-lo, a alma tinha-lhe sido retirada, como se o rapaz a tivesse sugado ao abandoná-lo naquele ocaso ameno.
Ainda assim, a esperança é a última a morrer, diz o povo no seu avisado saber. Sentei-me no pedregulho onde na véspera me havia sentado, não me atrevi a ocupar o santuário onde estivera, na tarde anterior, sentada a alma que conferira o halo iridescente ao momento único que, para mim, se veio a eternizar no tempo.
Sentado, inerte, esperei e esperei até que o sol se deitasse para lá do horizonte. Só então, cabisbaixo, deixei o local, abalado na confiança mas não desesperançado, pois muitos e tortuosos são os caminhos e os desígnios de Deus.
Os dias decorreram entre as idas a locais prováveis de encontro e os regressos a casa frustrados por mais um desencontro. A esperança de encontrar aquela criatura ímpar, fugaz e volátil diminuía drasticamente à medida que o tempo deixava para trás o dia do efémero e inesperado encontro.
Onde Diabo se metera o miúdo? Por onde andaria? Terá mudado de residência para um local distante? Por certo não se esfumaria assim sem mais nem menos, contudo já percorrera Ceca e Meca e sinais dele ou da sua presença nem vê-los…
Esbugalhei os olhos, esfreguei os olhos, voltei a esbugalhá-los, belisquei-me para me certificar que não sonhava e, não sonhava, ele estava ali, em carne e osso, com o mesmo ar de sempre e sorria-me. Nem queria crer no que via mas o meu coração pulando desordenado no peito dizia-me que estava na presença de uma verdade, de um facto irrefutável. Ali estava ele, todo sorridente, sentado num banco de réguas de madeira, apoiada numa estrutura de ferro fundido da avenida Josué Cortes Menalha, com a perna esquerda sob as nádegas e aquele olhar insolente de quem é dono e senhor do mundo e de que nada existe que lhe possa meter medo. Confiança pueril e desmesurada, de quem, a ingenuidade ainda não a abanou, humilhada, vergada e trucidada pelas torpezas da vida.
Aproximei-me e cumprimentei-o respeitosamente.
- Olá! Boa tarde rapaz.
- Boa tarde para vossemecê também.
Dei mais uns passos na sua direcção e apontando com a cabeça o banco perguntei:
Posso sentar-me para que descanse um pouco e possamos conversar? Isso, claro está, se te apetecer e não te importares.
Olhou-me calma e friamente, como que estudando, as palavras que se escondem atrás das palavras e as intenções que as intermedeiam. E só depois acedeu.
- Pode pois, mas olhe que não tenho tempo para grandes conversas. Quero ir ali a um sítio…
Senti-me incomodado, irritado até, quer pela audácia do fedelho, quer pela forma como pôs nas palavras as suas condições. Recebera-me de sorriso aberto. Aceitara a minha presença. Contudo, impondo-me uma restrição de teor condicional e temporal à minha proposta de estabelecer conversa. No fundo senti que o miúdo não sentia necessidade de construir uma amizade comigo, o que divergia dos meus intentos, pois o gaiato intrigava-me pela sua postura e maneira de ser invulgar face à idade que me arrebatou a curiosidade em conhecer melhor tão singular e misteriosa personagem. E que melhor forma existe para conhecer melhor alguém que não o cativar da sua amizade?
A amizade quando, verdadeira e desinteressada eleva a condição do Homem, pervertendo a sua inata natureza humana. Não avilta, enaltece!
- Não tenho visto vossemecê por ai? Não vive na vila?
- Talvez tenhamos andado de candeias às avessas e sim, vivo na vila. E tu, rapaz, também vives na vila?
- Vivo pois, lá em cima. - E, com um gesto fortuito de cabeça, indicou uma direcção tão imprecisa quanto vaga. Respeitei a sua forma de indicação ambígua, cerrando, sem mais, o assunto.
- Já se está a fazer tarde e quero ainda ir a um sítio.
Dizendo isto começou a destravar a perna que estava presa debaixo das nádegas e iniciou um lento processo para se erguer. Aduzi que teria a perna dormente, pois ainda sentado, bateu várias vezes com o pé no chão e esfregou o músculo da coxa e por fim, lesto, levantou-se.
- Como é que te chamas rapaz? Atirei sem grande convicção o barro à parede e não é que colou.
- tÓ mAnÉ.
Escrevo tal e qual o assento que deu às sílabas e a importância que relevou às letras, enquanto, sem parar, virava o pescoço para trás para me responder. Deu mais uns passos resolutos porém baixando a cadência e parecendo indeciso parou. Voltou-se para trás e olhando-me nos olhos perguntou: Vossemecê quer vir comigo? Quero-lhe mostrar uma coisa.
E foi assim que encetámos uma amizade intermitente, desinteressada, feita de poucas palavras, encontros ocasionais, de muitos silêncios e de sonhos de histórias por ouvir e por contar.
Como foi, também assim, que o tÓ mAnÉ não se interessou nadinha pela minha, já gasta e mais que usada pela vida, pessoa. Saber quem eu era ou como me chamava para ele não foi relevante e assim o continuou a ser. Chamei-lhe de ingenuidade, mas talvez ele tivesse outro parecer.
Capitulo IV – O ninho de papa-figos
Nem contestei o convite, aliás foi com muito agrado que manifestei a minha anuência ao levantar-me tão ligeiro quanto a idade mo permitiu. Apesar da prudência me aconselhar, nem questionei ao que íamos, pura e simplesmente fiz-lhe orelhas moucas.
Estugando o passo, cortámos a avenida e rumámos a poente até acedermos a um caminho de terra batida, marginado por muros, que serpenteava paralelo aos logradouros das casas da avenida e bordejava a zona agrícola localizada a norte do tardoz do muro e que nos conduziu, através de um interregno derrubado, a um trilho quase imperceptível que desembocava junto de uma enorme nora ladeada por uma colossal figueira.
Durante o tempo que durou o percurso o silêncio prevaleceu, bem como a incógnita inserta no meu espírito. Em contrapartida, ao meu guia, de passo firme e resoluto, não se lhe denotava um resquício de incerteza, nem um passo vacilante, não hesitava, sabia para onde ia e ao que ia.
- Shuiiiii… não faça barulho, faça como eu faço.
Anui com um gesto de cabeça, ainda na mais profunda das ignorâncias, e passo ante passo fomo-nos embrenhando no interior da frondosa figueira, através de uma espécie de galeria natural entre os troncos e a folhagem.
- Estamos mesmo a chegar, não faça barulho. Eu vou à frente para avisar que vossemecê veio comigo.
Mecanicamente, abanei a cabeça em assentimento, porém se estava intrigado mais intrigado fiquei. O bichinho da curiosidade não parava de me roer, para além de dizem que os moços conseguem descobrir o Diabo num escondido buraco. O que me levou a pensar que em boa não me tinha metido e o sentimento do arrependimento já me assaltava o espírito.
Quem iria ele avisar? E porquê?...
Impaciente. Aguardei. Um leve restolhar próximo logo alertou-me os sentidos e, foi de ouvidos bem abertos e corpo tenso, que me preparei para o que desse e viesse. O bulir discreto das folhas e uns passos abafados e miudinhos, preveniu-me que a espera seria breve. E, de facto, não me enganei, pois enquanto o Diabo esfregava um olho, entre as folhas um rosto sorridente, nuns olhos travessos de vitória e um acenar de mão convidativo, compeliam-me a obedecer. E, sem resguardo, assim o fiz. Se vim até aqui, agora, seja o que Deus quiser, pensei.
Quando me abeirei do rapaz, pousou-me a mão sobre o braço em sinal não de afecto mas sim de cautela, resguardo e silêncio.
- Olhe! Ali mesmo à sua frente. Vossemecê não está a ver?...
Olhei e voltei a olhar sem nada de relevante lobrigar.
- Onde?... Não vejo nada. O que é que me queres mostrar?
- Ali, na forca da pernada, mesmo à sua frente. Não está a ver?...
E, enquanto, deixava cair, ciciantes, estas palavras, que o vento morno da tarde soprava aos meus ouvidos, ia estendendo o braço em cuja extremidade uma mão de tez morena, mostrava um dedo indicador esticado que indicava a direcção para a qual deveria orientar o meu olhar.
Agora sim, eu via perfeitamente, uma bolsinha ou uma pequena taça, castanha clara, entretecida de fiapos de ervas secas, pauzinhos finos, penas e outras bugigangas macias indecifráveis, presa, por duas alcinhas, uma por cada raminho da forca.
- Já estou a vê-lo! É um ninho, um ninho de papa-figos. Como descobriste um ninho de papa-figos, se já ver um papa-figos é obra de milagre?
- Ora foi fácil! Eu sei falar com os pássaros.
- Sabes falar com os pássaros? Rapaz! Não tens necessidade de me mentir.
Olhou para mim, magoado e com uns olhos acerados. Tinha-lhe ferido dignidade e o arrependimento já matava. Temi que tivesse perdido a sua confiança, bem como, os ténues fios começavam a urdir o véu de um início de uma amizade.
- Vossemecê não acredita?... Então fique quieto e veja.
Estas palavras saíram da sua boca como lâminas afiadas prontas a dilacerar qualquer tipo de dúvidas e mal entendidos. Ainda estas palavras retumbavam nos meus ouvidos e, já o rapaz iniciava um ritual de trinados, assobios e pequenos sons semelhantes a miados de gato recém-nascido. Habilidade, rara, que eu nunca tinha presenciado… e eu que já sou bem entrado na idade já vi e assisti a muitas coisas.
Logo dois bicos abertos, esfaimados, afloraram das bordas do ninho e um rápido bater de asas reverberou entre a folhagem e, como uma aparição divina, a mãe papa-figos como se materializou junto ao ninho e acto quase continuo o pai papa-figos e, assim como que por sopro celestial a família papa-figos fechou fileiras em torno do seu sacro santo ninho e, em harmonioso entendimento.
Repentinamente o tÓ mAnÉ intrometeu-se na algaraviada, sugando à garganta um conjunto melodioso de sons. Curiosos, o casal de papa-figos, olharam-no, de cabecinhas de lado, atentos e, soltando um trinado límpido, alçaram voo.
- Vossemecê já acredita em mim? Agora que lhe mostrei.
Sem saber o que pensar tão pouco o que dizer, desconcertado e boquiaberto, mantive-me num mutismo constrangedor, que apesar de não ter durado mais que um par de segundos, mais pareceu uma eternidade. Por fim falei apesar da pouca convicção aposta na afirmação.
- Acredito sim rapaz!
Se entrámos calados saímos mudos, nem tão pouco os trajectos de ida e volta diferiram. Chegados à avenida, chegou a hora do adeus. Sem mais palavras, apenas com um olhar cúmplice, de quem tinha partilhado uma aventura indizível, cada um seguiu rumo ao destino que Deus lhe concedeu.
Capitulo V – O segredo das palavras
Quinta-feira. Meio da manhã. Sentado na esplanada do café Calçadinha, frente a uma bica fumegante e passeando os olhos, distraidamente, pelo jornal desportivo “A Bola”, procurando, desta forma, enganar os dias e a solidão que por vezes me assalta, finjo um mundo que não é de todo o meu.
Não sei ler. A vida não me concedeu essa oportunidade, todavia gosto de olhar para jornais e livros, ver as ilustrações e até as letras, mas o que mais me apraz é o cheiro da tinta fresca no papel, faz-me lembrar todos aqueles a que Deus concedeu a benesse de compreender, aquilo que para mim não passam de borrões, principalmente os mais jovens que muitas vezes, enfadados, deliberadamente se recusam a querer aprender.
Ah como deve ser tão bonito saber ler e escrever!...
Bebericando a bica, folheando o jornal e enlevado nestes pensamentos eis que, provindo das minhas costas, oiço um efusivo: Bom dia! Como passa vossemecê. Primeiramente não fiz caso, até julguei que não fosse assunto do meu rosário, porém a insistência no cumprimento e o timbre de voz, trouxeram-me, subitamente, luz ao espírito. Eu conheço esta voz…
Voltei-me para trás e qual não é o meu espanto quando vejo o tÓ mAnÉ encostado ao pórtico colunar, e imemorial, da entrada do café, de sorriso de orelha a orelha, olhando-me fixamente e insolente como só ele.
- Olá! Bom dia miúdo. Queres tomar qualquer coisa? – Disse por cortesia.
Em passos lentos encaminhou-se para a mesa. Pediu licença e sentou-se.
- Pode ser um pirolito? Mas diga ao senhor que eu quero o berlinde. Importa-se?...
E, fixou-me. Nos olhos dançava-lhe um brilho expectante e ao mesmo tempo temeroso. Que me fez pensar: Ele quer mesmo é o berlinde e o pirolito é o pretexto. Resolvi fazer-me caro.
- Oh rapaz!... Não sei se o empregado de mesa vai cair nessa. Porque não lho pedes tu?
- Eu?... Homessa, nem vale a pena o gasto da saliva. A vossemecê ele não vai ter coragem de dizer que não. Faça de conta que sou seu filho…
E, dizendo isso, acendeu um rubor intenso nas faces.
- Desculpe eu, eu,… não tinha intenção…
Interrompi-o!
- Deixa lá. Sei que não foi por mal. Queres mesmo aquele berlinde, não é?
Mais uma vez o rubor nas faces lhe traiu as intenções. Baixou os olhos na direcção dos joelhos ossudos e começou a esfregar as mãos, uma na outra, como se a resposta à pergunta pairasse ou orbitasse, no interstício existente entre o esfregar de mãos e os joelhos.
- Quero sim senhor!
Acabou por reconhecer, pois a vontade rebentava-lhe no coração.
Psst, psst, reclamei a atenção ao empregado que servia a mesa, não estava a chamar por um gato, nem de longe nem de perto, todavia era assim que se prendia a atenção dos empregados de mesa, naquele tempo, o que não era uma indelicadeza mas um procedimento comum.
- Um pirolito fresquinho, aqui para o rapaz, se faz o obséquio.
Com a mesma espécie de vénia com que nos abordou assim se distanciou de nós no cumprimento da sua tarefa.
- E o berlinde, e o berlinde? Vossemecê esqueceu-se?...
Quase gritou ele de afogadilho.
- Calma rapaz, calma. Cada coisa em seu tempo e em seu lugar.
- Ah não se esqueceu então?
- Não! Sossega.
Enquanto aguardávamos pelo pirolito, terminei o café, já frio e sem graça, e recomecei a folhear o jornal para disfarçar a incomodidade da falta do uso da palavra. O silêncio é perito em instalar-se no meio das conversas, criando um mau estar ou uma ausência de ruído afável, gerador de empatia, um vazio constrangedor da mente. E, mais cedo ou mais tarde alguém tem que o quebrar, sob pena de um até mais ver ou um adeus até à outra surgir da boca de um ou mais dos intervenientes no silêncio.
- Está a ler as notícias da bola? Ora diga-me lá o que está a acontecer?
- Gostas de bola? E qual é o teu clube do coração?
Respondi, não por curiosidade, não porque a não tivesse, mas mais para esconder a dura realidade. Não queria dizer ao rapaz que apenas estava a matar o tempo, vendo aqui e ali as gravuras impressas. Ou melhor dizendo. Eu não queria mesmo dizer que não sabia ler, pois a vergonha açoitava-me a alma, principalmente quando eu podia ler nos seus olhos, que para ele, as letras não eram meros borrões de tinta escarrapachados no papel pardo do jornal.
- Gosto! Então não havia de gostar? O meu clube do coração é a Académica, o clube dos estudantes e, quando for grande quero ser médico e também quero ser jogador da Académica.
- Pois eu sou do Glorioso, do Glorioso Benfica! O clube onde joga o Eusébio, o melhor jogador do mundo.
Apesar da resposta pronta, disfarce em parte de uma farsa. Sentia-me mais pequeno que um grão de areia. Pois não tendo faltado à verdade tinha fugido a ela, ocultando-me na omissão, para fugir à vil mentira. E, algo dentro de mim me fazia recordar que na verdadeira amizade não se deveria proceder desta forma. O meu comportamento fora reles e asqueroso, pois actuara sob a égide da cobardia.
Entretanto o empregado colocou o pirolito e o copo sob a mesa, dando-me tréguas ao pensamento e ao desconforto.
- Queres comer alguma coisa para acompanhar com o pirolito, miúdo?
- Não obrigado! Só quero o pirolito.
Esta afirmação era, para mim, como um pau de dois bicos. Por um lado o miúdo referia-se à bebida em si mas por outro lembrava-me que lhe tinha prometido pedir o berlinde que também e, por provir da garrafa da bebida, se designava vulgarmente por pirolito. Percebendo a mensagens e ainda pesaroso da minha atitude anterior, intercedi junto do empregado.
- Quanto se deve aqui?
- Dois mil e quinhentos por favor.
- Cinco coroas? Upa que isso está caro.
Mais sabia eu que era o preço justo, mas o remate ia-me servir de mote para tentar sacar o berlinde.
- Por esse preço vai ter que ter o direito ao berlinde do pirolito.
- Mas…
- Eu sei, eu sei, pode ser de uma garrafa mais velha que já esteja danificada. E o miúdo, sabe como são moços? Gostaria de ficar com o berlinde. Veja lá o que pode fazer. Até porque eu já lhe prometi e as promessas são de vidro, não podem cair.
Paguei a despesa e acresci uma gratificação de cinco tostões, para olear a engrenagem ou melhor a bem-aventurança e o embaraço da criatura.
- Já terminou a leitura do jornal? - Soprou-me o cliente da mesa do lado.
E foi assim que me surgiu o ensejo que permitiu corrigir, esclarecer ou repor o comboio na linha, por assim dizer, uma vez que, tão desonrosamente, o tinha feito descarrilar.
- Não, porque não sei ler! Mas sim! Porque já vi as gravuras e lhe senti o cheiro da tinta fresca no papel.
Dizendo isto, dobrei o jornal e estendi-o ao indivíduo. Ao que ele agradeceu, apesar da cara de espanto não me ter fugido, ainda que as goradas tentativas de disfarce a procurassem ocultar.
A quem nada escapou foi ao tÓ mAnÉ.
- Vossemecê não sabe ler nem escrever?
- Não, não sei tÓ mAnÉ! Quando era novo nunca tive essa possibilidade, mas nota que tenho muita pena.
O rapaz olhou-me atentamente por uns instantes e recomeçou a falar.
- Olhe! Fique vossemecê ciente que é muito importante saber ler e escrever. Sabe que as palavras são muito importantes? E que temos que as saber todas, chamam-se de vocabulário. Acredite foi a minha professora que o disse e, também disse que elas albergam segredos que só quem as sabe dizer e compreender conhece.
Fiquei verdadeiramente admirado com a forma do gaiato se expressar e, continuou.
- Na minha escola os livros têm palavras muito difíceis e nós todos temos que aprender como escreve-las, a saber o seu significado e até o modo como e onde devemos usá-las. Como diz a minha professora o vocabulário enriquece-nos o saber.
E continuou, nunca me lembro de o ter ouvido dizer tantas palavras de uma vez só, pois era parco no seu uso. Contudo a minha admiração pelo rapaz aumentava a olhos vistos.
- Mas as palavras mais difíceis não são as que estão nos livros da escola mas sim aquelas que leio nos livros de histórias que tenho em casa. Aí sim estão as verdadeiras palavras. Dentro desses livros pequenos e coloridos é que estão realmente escondidos todos os segredos das palavras.
As palavras contam-nos os silêncios entre as linhas e as páginas por escrever e, ensinam-nos também, que nem tudo pode ou deve ser escrito, muitas são as coisas que são apenas para sentir e, ainda há coisas para as quais, ainda não foram inventadas as palavras, para que as mesmas possam ser devidamente descritas.
Quando se preparava para disparar mais uma dúzia de palavras repletas de segredos para mim, apareceu, em má hora, o empregado de mesa com o berlinde, desajeitadamente, escondido em sua mão fechada, mal disfarçado, mas que passou despercebido a todos os habitantes do café.
Entregou-o directamente ao rapaz com um sorriso cúmplice e uma piscadela de olho. Foi notório e bonito, para quem pôde assistir, que o jovem empregado de mesa ainda tinha bem presente a sua condição de uma vez ter sido criança.
Ambos agradecemos. Ambos sorrimos para depois rirmos. Até o empregado se voltou exibindo um riso franco e aberto enquanto rodopiava na mão a bandeja de aço inox brilhante. Lembrei-me então que, para além das palavras, os gestos, os actos e os seus autores, também revelam segredos muitas vezes impossíveis de descrever, inefáveis.
Levantámo-nos. O tÓ mAnÉ, de berlinde no bolso, e mais contente que uma pega sem rabo e, eu, carregado que nem um burro, de gorpelha cheia, onde de um lado iam as palavras e do outro pesava uma lição de moral.
- Vossemecê quer que lhe ensine o segredo das palavras?...
Era uma voz longínqua, como que segredada no mais profundo do meu cérebro, à qual fiz orelhas de mercador, quer por falta de assumir a coragem da resposta, quer por ceder ao medo do: Antes de tentar já assumir por certa a derrota.
Capitulo VI – O fantasma e os bicos de lacre
Ia o Junho já no prumo e a manhã a chamar pelo meio-dia, e tal como diz o povo na sua razão sábia e singela: Meio-dia panela cheia barriga vazia. Era sem dúvida alguma esse o meu sentir maior, quando, já de passo lesto, e pensando que, em casa, me esperavam o jantarinho de feijão, que preparara no dia anterior, um jarro de palheto Areias, uma infusa de água fresca e, no interior de um talego, um pão de cozedura caseira em forno de lenha, comecei a sentir a cabeça zonza e uma fraqueza estranha em todo o corpo, pensei: Levantei-me cedo, quebrei o jejum com uma malga de café de chicória e uma côdea de pão, estendi o passeio, apesar do dia ter aberto quente, pela manhã adentro, pelo que isto é cansaço e falta de uma boa sede de água.
Conhecedor do local, sabia que do outro lado da pequena elevação, num pequeno vale, moravam, eternos, uma enorme árvore de pimenta rosa, vulgo chorão, e duas alfarrobeiras, um poço com água límpida e potável, e um pouco mais afastado, um olho de água, rodeado de capim e tabuas, formando no seu conjunto uma zona frondosa e fresca, onde os pastores, os rebanhos e os fatos, de ovelhas e cabras, respectivamente, costumavam mitigar a sede e descansar nas horas em que o calor até as grandes pedras adormeciam, fechando as fendas que delas são os olhos, e onde aprisionam os fantasmas que nelas se refugiam para se protegerem das inclemências da natureza.
Mudei o bordão de mão e, com ele, o trilho que seguia. E, assim, sem deixar que a recusa do pensamento superasse a força da vontade, botei as botas à vereda e dela fiz caminho até ao poço Peso. Afinal o almoço podia esperar pelo retempero das forças perdidas, sem daí advir qualquer tipo de mal. Além disso nem era cedo nem era tarde, era apenas uma hora igual a muitas outras horas, um simples intervalo de tempo inserido numa infinidade.
- Vossemecê faz mais barulho que o Blé Camacho e todo o seu fato.
Subiu-me o coração à boca, tal foi o cagaço. Raios partam o céu e a terra.
- Você quer matar-me? Dê-me antes um tiro. Bolas que nem estou em mim.
E, imediato, uma gargalhada leve, álgida e cristalina soltou-se, provinda de local incerto, e trespassando o ar quente daquele final de manhã. Acrescendo mais uma batida incontida e receosa ao meu coração.
- Quem está aí? – Quase gritei, ainda fora de mim.
- Vossemecê já não se lembra de mim?... Deve andar a comer muito queijo?
A voz não me era estranha de todo mas, ali longe de tudo e todos, não a reconheci. E, como poderia?
- Sê homem, mostre-se! Não se esconda, como um vulgar gatuno.
E, acarinhando, com a mão esquerda, o cabeçote do bordão, numa atitude de aconchego e salvaguarda, aguardei, inquieto, pela aparição de tão inesperada criatura.
- Ora, ora não precisa de ter medo. Sou eu, o tÓ mAnÉ. Estou aqui em cima, sentado aqui numa das abas do chorão.
Voltei-me. Olhei para cima e, lá bem no alto, acocorado numa pernada do chorão, estava o fedelho, acenando e rindo-se de mim. Fazendo poucochinho. Desagradou-me a atitude que desta vez ultrapassou toda a regra pela qual se rege a insolência e a irreverência salutar, raiando a malcriação e a indecência.
- Que fazes tu tão longe de casa? Os teus pais sabem por onde andas?
De súbito lembrei-me que não fazia ideia nenhuma se o garoto tinha pais ou se vivia com os avós ou familiares, pois sempre que o encontrava nunca o vira acompanhado. Todo o pertenço saber que tinha sobre o assunto era mera presunção minha.
- Desce daí. Olha que ainda cais e te aleijas.
- Não tenha vossemecê cuidados, que só mesmo um gato sobe melhor às árvores do que eu.
E, palavras não eram ditas e já os cajados voavam. Foi num abrir e fechar os olhos que o danado do moço pôs os pés em terra são e salvo. De facto só mesmo um gato teria uma agilidade que se lhe comparasse. Contudo, no que respeitou aos, pais fez tábua rasa na resposta. Assim como um: Não te metas aonde não és chamado, que resolvi respeitar.
- Aqui estou! E, como pode vossemecê bem ver, as árvores não têm segredos para mim. São todas iguais e fazem júbilo em me mostrar qual o melhor caminho para que possa trepar e descer ao longo delas para lhes fazer companhia.
Saiba vossemecê que se sentem muito sós e presas ao solo onde nasceram. Valem-lhes a companhia de alguns insectos, animais e passarinhos, porém elas não lhes entendem a fala nem sabem falar com eles. A chuva e o vento, esses sim, elas compreendem mas falar, falar… é comigo. Comigo elas dialogam e sentem-se confortáveis para revelarem os seus mais recônditos segredos. Por isso ensinaram-me como melhor chegar junto dos seus ouvidos, que são também a sua boca e os seus olhos, sem correr perigo, como também me embalam suavemente em seus braços até que toque, salvo, o chão.
- Que dizes tu rapaz? O calor deve ter-te afectado a moleirinha. Agora falas, ou melhor dialogas, com as árvores? Homessa!...
- Queira vossemecê saber que é a mais pura das verdades! Olhe, vamos ali para junto do poço, que quero beber um cocharro de água. Vossemecê não tem sede?... Pois eu tenho e muita. Que depois, se quiser, conto-lhe uma história antiga que o chorão, que tem mais de cem anos, me contou.
- O facto de ter sede e de me sentir cansado foi o que me trouxe aqui. - Respondi num tom seco e mais áspero do que queria, talvez para mostrar algum desagrado latente.
- Vamos lá então beber esse cocharro de água e ouvir essa tua história mirabolante que um dia o chorão te contou.
Calados cumprimos a curta distância entre o pé do chorão e o poço. Eu, meio arrependido pela forma como hostilizei o rapaz. Ele… bem ele, saberá Deus, o Diabo e ele, o que passa pela cabeça de um pestinha que fala com as árvores e elas com ele.
Depois de saciada a sede, procurámos um local fresco para nos sentarmos e após um silêncio fugaz a história começou, puxada a saca-rolhas a princípio e que foi fluindo conforme o meu ar de incredulidade diminuía.
- Há muitos, muitos anos, vivia neste recanto um fantasma que se alimentava de bicos de lacre. Vossemecê sabe o que são bicos de lacre?
Anui com a cabeça e a história prosseguiu.
- Durante a noite escondia-se numa fenda enorme que existia naquela rocha grande, junto ao medronheiro. - Esticou o braço franzino e apontou para o local. - Mas, de dia, escondia-se dentro do olho de água, que está ali no meio do capim e das tabuas. - Voltou a apontar o local para que eu o identificasse. - E, muito silencioso aguardava, que o bando de bicos de lacre, pela hora do calor, viesse tomar banho, matar a sede, retouçar e resguardar-se do calor, sob e por entre os caniçais e as tabuas, até que algum dos passarinhos, incauto, se colocasse ao alcance da sua voracidade. Aí ele sugava-o, com a sua poderosa aspiração, proveniente de forças ocultas, devorando-o sem piedade, para pouco depois lhe cuspir as penas e os ossinhos sob a forma de uma bola de plumas coloridas. E, assim, num ritmo cadenciado, dia após dia, um após outro, os coitados dos bicos de lacre, iam sendo dizimados, pelo implacável fantasma.
Conta o chorão que, quando ele ainda não passava de um tenro rebentinho, havia, perto do poço, um enorme e bicentenário pinheiro manso, que numa tarde tórrida, abafada, rancorosa e indisposta de Julho, foi atingido por um raio que o rachou de cima a baixo, separando-o em duas partes, não lhe deixando mais préstimo de que o de ser lenha para o Homem se aquecer de Inverno. Porém antes de sucumbir às lâminas afiadas dos machados dos lenhadores, contou, para quem o quis ouvir: Quem era, como apareceu e como conheceu o dono do fantasma.
Segundo ele, era um homem forte e mau, que trazia sempre como companhia um cão galgo tigrado, preso a uma corrente de elos de ferro ferrugento, a qual se ligava através de um mosquetão a um arganel metálico enorme, tal como aqueles que usam no nariz de um touro rebelde, quando o pretendem transportar a corda, a uma coleira de cabedal cru, larga e sebenta de tanto uso, onde se dependurava um chocalho de latão, também enorme, obrigando o pobre animal a arrastar a cabeça, bem como, a sua dignidade pelo chão, que nas tardes tórridas e sufocantes de Verão se deitava sob ele para descansar a bestialidade que do seu corpo havia feito residência permanente.
E, foi numa destas tardes de calor que, quando descansava toda a sua odiosa malfeitoria, ressonando impropérios e ressumando baba venenosa, à sombra do bondoso pinheiro manso que a todos, sem distinção, de bom grado acolhia, que a sombra do Bem, feita de luz e estrondo, numa tarde tórrida, abafada, rancorosa e indisposta de Julho, desabou cega e inclemente sobre o frondoso pinheiro, obliterando parte dele, homem e cão de uma só vez.
Paga o justo pelo pecador, e para que o mal não fosse maior, e na tentativa de compensar quem de mal nada tinha feito, Deus decidiu unir, numa só alma benfazeja e protectora do pequeno vale, a parte incinerada do pinheiro manso e o cão, porém de boas intenções está o inferno cheio e, aproveitando a distracção de Deus o Diabo, aproveitou a corrente ferrugenta que ligava o homem ao cão, ou seja o Mal ao Bem, para transformar uma criação divina num ser desprezível e odioso: Um fantasma que tinha o poder de farejar e ouvir como um cão, um poder sucção semelhante ao das raízes, uma língua detentora de uma saliva resinosa tal e qual a seiva de pinheiro e a sagacidade e a maldade do homem. Quem o viu diz que se assemelhava a uma mancha informe avermelhada, lamacenta que se deslocava fazendo um barulho tilintante tal e qual o arrastar de elos de uma corrente, deixando um rasto brilhante e pegajoso.
Contudo, o chorão, face à sua tenra idade, não conheceu o fantasma tão pouco os bicos de lacre, estes porque: Aqueles que o fantasma não devorou, acabaram por abandonar definitivamente aquele local paradisíaco, que se transformara num tormentoso inferno, e o fantasma, punido por Deus e o Bem foi transformado em lama vermelha e encarcerado definitivamente na fenda da rocha que lhe dava guarida.
Por fim o rapaz, pousando um olhar sonhador no infinito, calou-se, dando por finda a história. Aguardou que eu quebrasse o mutismo, que persistiu colado à minha boca. Levantou-se devagar, sacudiu as calças e dando-me as costas foi-se esfumando na paisagem até desaparecer do meu ângulo de visão.
Quando caí na realidade os meus olhos saltitavam entre a grande pedra cárcere, o olho de água, o capim e as tabuas e o grande chorão centenário e a minha mente a perguntar-me insistentemente: Porque não voltaram os bicos de lacre?...
Capitulo VII – O riacho, a fonte, o canavial, o vento e o zorro
No decorrer das últimas semanas tenho acordado indisposto. Porém, nunca tanto quanto hoje me foi difícil encarar o espelho oval e de bordos gastos. Depois de lavar as mãos e a cara, enchi a bacia de água, preparei o sabão na concha de barbear, o pincel e afiei a navalha no afiador de couro, verifiquei o estado do lápis hemostático da 444 e da pedra de alúmen e, por fim, clamando de toda a coragem residente em mim, enfrentei o espelho e pensei: Ninguém se deveria sentir como eu me sinto!
Após uma higiene completa, que nada tinha a ver com as fóbicas assepsias de hoje, até porque em minha casa não existia água canalizada e a mesma tinha que ser transportada da fonte para casa em cântaros de barro enfiados em cangalhas que repousavam sobre o dorso de um burrico já gasto e cansado dos anos, vesti o meu fato preferido, para recobrar o ânimo e quebrei o jejum com um pedaço de pão barrado de toucinho e um púcaro de café de cevada. Actos singelos mas que ajudaram bastante na reposição de algum alento, consolo e confiança para enfrentar as horas incontáveis de um dia inteiro despido de tarefas.
Nestes dias de desconsolo generalizado gosto de ouvir o som gorgolejante da água. Foi assim que logo me veio à memória uma deslocação até à fonte do pego do Zorro, local fresco e isolado, ideal para fazer contas à vida e, para além disso, não muito longe do monte onde vivo. Contrariamente a todos os outros dias, hoje, não tive génio para tratar da bicharada: Altino, o burro, Albino, o porco e os restantes animais de capoeira comandados por Alvino e Almiro, o galo e o ganso, respectivamente. Tarefa que releguei para o fim de tarde. Ninguém morreria por isso e fosse esse o mal maior que daí adviesse.
Pernas para que vos quero, pois o rumo já está certo. A caminhada não foi longa e em menos de um farelo já escolhia poiso para acomodar o sim senhor e encetar o longo solilóquio onde se digladiavam num uno indiferenciado o racional e o irracional, a intrepidez e o medo. Tinha que tomar uma decisão e não poderia passar de hoje, pois o mau estar aumenta e apossa-se de mim a cada dia que passa. Nunca, em toda a minha vida, me lembro de ter ido ao médico e agora que sinto que faz falta, tenho medo de lá ir. Esta é uma daquelas coisas que o irrazoável desconhece a razão reconhece mas, teme o próprio conhecimento.
Sentei-me numa meda de pasto seco quase colado à bica, em telha de barro, da fonte e, enquanto ouvia o rumorejar da água, aprofundava-me nos meus revoltos pensamentos. E, assim, entre medos e certezas as horas foram caindo da fonte e escorreram para o pego do Zorro, continuando daí o seu longo e tortuoso caminho até alcançar o mar. Percurso semelhante ao trilho de vida de qualquer mortal.
Decorria manhã alta quando, repentinamente, a quietude do local cessou. Primeiro foram os melros, os gaios e os charnecos ou rabudos que deram o alerta, levantando voo numa algazarra de aviso peculiar a cada uma das aves. Só depois, vieram sons como: O tilintar de chocalhos, o restolhar, o berrar e o balir dos animais e, por fim, o ladrar dos cães e as vozes de comando dos pastores. Não tardou muito que, num tropel desorganizado e num alarido infernal, os primeiros animais fizessem a sua aparição, estacando aquando depararam com a minha presença, porém o cheiro a água fresca e a sede atroz quebraram todo e qualquer resquício de medo e os animais fizeram-se à água matando a míngua que os consumia. Por fim chegaram cães e pastores ou melhor especificando cães, e pastoras, mãe e filha, e o tÓ mAnÉ. Do sossego ao desassossego, da quietude à inquietação, assim posso descrever a metamorfose que ambos, o local e eu, sofremos, face à recente e inoportuna ocorrência.
Valha-me Deus que confusão, pensei. E eu que vim, especialmente, para aqui para meditar.
- Muito bom dia senhor. – Disse a pastora emoldurando um sorrindo forçado e algo desagradado. – Desculpe a confusão mas os animais e nós precisamos de beber e descansar. O tempo não vai macio e o sol já abrasa.
A pastora era uma mulher nova, não passaria dos trinta e cinco anos, trigueira do sol e bonita de se ver. Uma mulher de armas, lidando num trabalho de homens.
- Bom dia para vossemecê. Respondi, ainda aturdido.
- Meninos deixem de asnear e cumprimentem o senhor. – E, logo de seguida, acrescentou. - Desculpe-lhes os maus modos mas são crianças. Aquela menina é a minha filha Matilde e o rapaz é o seu primo o Tó Mané. - E acrescentou. - Não andam muitas vezes juntos, pois ele vive na vila, mas quando se juntam pintam a manta aos quadrados. São uns verdadeiros diabretes, mas fazem muita companhia, principalmente o rapaz. Ele tem sempre uma história para contar. Imaginação é o que não lhe falta, às vezes em demasia, até no faz ter medo de certas coisas. E, olhe, que sou uma mulher afoita. Poucas são as que abraçam esta vida, que nos atira, ao Deus dará, e nos braços do Diabo, por esses campos, ao calor e ao frio e sujeitas a quem possa vir por bem ou mal. O que me vale são os cães e este meu cajado de cachaporra.
Entretanto, os miúdos, face à reprimenda, dirigiram a sua atenção para nós, com o intuito furtivo de largar um bom dia e voltar ao reboliço. Foi aí que o tÓ mAnÉ me reconheceu e, de olhar esbugalhado e meio estremunhado, como se estivesse sonhando, ficou assim como que petrificado, demorando a reagir, coisa que não lhe era inerente.
- Vossemecê aqui!?... - Retorquiu à laia de pergunta e afirmação, sem sequer se lembrar de dar os bons dias, tal não era o seu espanto.
- Bom dia meninos. Como têm passado?
- Desculpe! Bom dia para vossemecê, também. Esta é a minha prima Matilde, ela é mais nova do que eu mas dá bem conta do recado e olhe que andar com o gado não é pêra doce.
A Matilde disse um olá muito sumido e envergonhado enquanto torcia com as mãos o cós da camisola.
- Olá Matilde! – Disse eu apaziguando o embaraço da pequena Matilde. Que baixou os olhos e dirigiu-se para junto de um cão pastor macaco cinza que estava deitado debaixo da romaneira, arfando como uma locomotiva e, de boca aberta e língua pingando. Dizem que os cães suam pela língua, se assim o é, aquele estava encharcado de suor.
Depois de saciarem a sede, e feito que estava, pelo tÓ mAnÉ, o reconhecimento do até então estranho e inopinado ocupante, a pastora, pôde, então, desarmar e baixar a guarda. Aproveitando a ilusória segurança, criada pelo rapaz e o idoso, face ao conhecimento mútuo, e relaxando a tensão imposta pelos momentos antecedentes, resolveu usufruir do momento de paz alcançado e descansar. Estendeu-se, lateralmente, a uns bons seis metros de nós, conforme avisa a prudência dos anos sós, passados no pastoreio, junto à banca de uma oliveira, onde, também, um dos cães, este amarelo, e de pelo frisado com orelha direita, que permanecia, apesar de deitado, alerta. Não sendo um perito reconheci nele um possante podengo algarvio de pelo frisado ou de arame. Dormitando, num sono sempre alerta, as fadigas da manhã que, para os pastores, começam antes do romper da aurora.
- Que faz vossemecê aqui? E com essa cara homem. Vossemecê está mesmo com má cara, faz pensar que está doente.
Com estas palavras o rapaz sentou-se ao meu lado e olhando-me com genuína preocupação, perguntou: Vossemecê está doente?
- Não me tenho andado a sentir muito bem ultimamente, rapaz. E, estou aqui exactamente por isso… - Interrompeu-me de supetão, sem deixar que continuasse o meu raciocínio.
- Vossemecê tem é que ir ao doutor em vez de vir para aqui, pois aqui não se vai curar pela certa.
- Pois é! Tens toda a razão. Só que nunca fui ao médico e sinto-me pouco à vontade e até tenho o certo medo. Não sei o que hei-de dizer ao homem.
- Ora, mas isso é fácil. Eu já estive no médico e nós não precisamos de falar muito. Ele faz as perguntas e usa os aparelhos para saber como estamos de saúde, não tenha medo pois não tem mal nenhum. Quer que eu vá consigo?...
- Não rapaz! Já ajudaste quanto baste. Obrigado.
A rapariguita e a mãe dormitavam e nós, em silêncio, de cabeças baixas meditávamos cada qual na sua coisa.
- Deve estar a fazer dois anos. – Começou devagar o tÓ mAnÉ a falar. – Que aqui estive com uns amigos, soprava um vento sueste forte e abrasador, também conhecido como vento levante, só os pescadores é que gostam de vento levante, o povo diz que de Espanha nem bom vento nem bom casamento, vossemecê nunca ouviu? – E continuou, não esperava resposta, era evidente, a pergunta era mera retórica. – Que até a água na fonte estava quase morna e o pego do Zorro convidava para um mergulho e, assim o fizemos no meio de um estardalhaço danado, que assustou tudo e todos. Pudera…
Quando o frio começou a tomar conta dos nossos ossos demos o banho por terminado e deitámo-nos ao sol. – Ali, entre a figueira e a amoreira, e apontou. – Onde num ápice nos deixamos levar pela modorra do calor, passando, inevitavelmente, pelas brasas. Assim, voltou a calmaria ao local e com ela o regresso da bicharada, bem como o sopro do vento entre o canavial, que não parou, todavia foi abafado pela turba desordeira e ruidosa. Agora tudo era o silêncio calmo e rumorejante próprio da natureza.
Acordei. O vozear ensurdecedor do vento e dos caniçais, a voz roufenha do pego e o ciciar da fonte, retumbavam na minha cabeça como um malho, a moldar o ferro em brasa, numa bigorna. Afinei o meu diapasão ao timbre da voz da natureza e iniciei uma escuta atenta, tal e qual uma vulgar quadrilheira de rua, e o que ouvi deixou-me estupefacto. – E na sequência de uma breve paragem para recuperar o fôlego, o rapaz continuou. – O vento levante lembrava aos caniçais que: No tempo dos seus bisavôs, e num dia em tudo semelhante ao de hoje, ele viera do Magreb, viajara durante toda a noite e chegara a este local com o sol já alto, muito cansado e parara para descansar, severizando assim, ainda mais, o já insuportável ambiente, pois ao deixar de soprar a temperatura aumentou e o ar ficou escaldante e insuportavelmente abafado, mas que poderia ele fazer o cansaço e o sono atormentavam-no tenazmente e… o lugar era tão aprazível como resistir à tentação? – E continuou na senda das suas recordações. – Parei aqui, pensando que uma boa barrigada de água e uns momentos breves de descanso, seriam mais que suficientes para que retemperasse e continuasse o meu caminho. Nem eu sabia como estava errado. Depois da sede mitigada, na velha bica de meia-cana, lavei a cara no pego pouco profundo, que, de ti fonte, era a bacia e deitei-me contemplando a beleza e a frescura do local. Apenas queria descansar por um momento. – Os caniçais, a fonte e o pego aquiesceram, cada um à sua maneira, abanando, escorrendo e sossegando o marulhar da água. E o vento continuou. – O rigor do estio criado pela minha longa e imprudente paragem, pois o sono foi muito além da minha vontade, atraiu ao local, naquela tarde, um casal que trazia com eles uma criança de tenra idade, um filho por certo, para se protegerem de tamanha calmaria e se refrescarem do rigor imposto pelo sol à terra e, tal como eu, cederam às tentações de Morfeu e, embalados em seus braços, rendidos à quietude reinante, esqueceram o bebé que entre eles repousava, aliás todos nós repousámos, apesar do mundo à nossa volta continuar a girar. - O ar voltou a encher-se de um silêncio abafado e pesado que só se esfumou quando o vento voltou a falar. – A criança acordou impertinente. Suada e sedenta. Apertada entre os progenitores e demasiado cansada para chorar ou porque a isso não estava habituada, começou a gatinhar em direcção ao pego de água, resvalou da sua orla e, com um splash surdo caiu na água, que sendo pouco profunda, no entanto, para ela era silenciosamente fatal. Ninguém acordou, nem tu, pego, que da tua quietude, apenas uns breves anéis concêntricos emanaste. – O vento suspirou profundamente, como que expiando a culpa, fazendo os caniçais abanarem, a água na fonte perder o ritmo de queda e, no pego, surgir uma leve ondulação, provocando, assim, um arrepio geral que os retirou a todos da letargia em que se encontravam. E, por fim, prosseguiu. – Valeu à criança um zorro que, na outra margem, se preparava, com todos os cuidados inerentes à sua condição de malquerido por todos, para refrescar a garganta ressequida. Atento e sagaz, o zorro, apercebeu-se da queda da criança, que já de borco nem gemia, e, com dois saltos ágeis e rápidos, agarrou-a pelos suspensórios cruzados dos calções e foi depô-la junto da face da mãe, varrendo-os a todos, na face, com movimentos enérgicos da sua enorme e farta cauda de pelo sedoso, roubando-os ao sono e provocando o choro da criança, para logo depois fugir, não fosse a coisa azedar para o seu lado. Afinal zorro é zorro e é sempre o culpado! Fora do alcance e a salvo, todavia bem visível, voltou seu focinho negro e pontiagudo, numa verificação última. Tudo estava bem! A criança salva e, até o pai do miúdo o olhou embevecido. Seguiu, orgulhoso, o seu destino, sem um olhar à retaguarda, e a Deus agradecido.
Daquele dia em diante, os Homens das redondezas, denominaram-te de pego do Zorro e, ao local, como o Sítio da Boa-Hora, tal como ainda hoje são conhecidos. – O vento voltou a silenciar-se por um instante e pensativo, retomou determinado. – Aprendi a minha lição. Desde então a esta parte só paro para descansar quando, depois de três ou quatro dias de viagem, regresso extenuado a casa e me deito, descansado, de dever cumprido e sem sobressaltos, no meu querido e amado deserto.
O rapaz emudeceu, olhou solene o espaço que o rodeava e colocou a cabeça entre os braços que apoiavam nos joelhos, numa atitude de meditação e, assim, permaneceu como embebido num tempo remoto em que reinava na terra a paz. Uma paz onde um zorro podia salvar um menino de se afogar, e um vento que quase morria de arrependimento, um pai que embevecido podia agradecer a um zorro, com um olhar, o acto de salvar. Enfim uma paz onde o Homem era agradecido à natureza e a Deus, ao ponto de chamar a um pego de Zorro e a um local de Boa-Hora.
Entretanto as pastoras começaram a dar de si. Tinham acordado e espreguiçavam-se. Os cães, conhecedores do seu ofício já reuniam o rebanho. Estava na hora de partir. Mais uns tragos de água, e cheios os odres, restavam as despedidas.
- Tenha uma boa tarde senhor. – Disseram quase em uníssono a pastora e filha. - Foi uma bênção a sua companhia. – Acrescentou a mãe.
- Vamos Tó Mané que a tarde já se vai fazendo curta.
À ordem da pastora o rapaz voou do sonho para a realidade.
- Vou já tia Clotilde, vou já.
E virando-se para mim, cabisbaixo, soprou sem convicção, um: Até mais ver. Ia notoriamente triste, arrastava cada passo, como que em cada braço lhe pesassem todos os pecados do mundo. Não olhou para trás como também não parou.
- Vossemecê vá ao doutor, olhe que não lhe vejo bom aspecto.
Capitulo VIII – A morte
Sinto que as forças, aos poucos, me estão a abandonar. Hoje, pela manhã, não consegui reunir as vontades necessárias e suficientes para me levantar da cama. O meu corpo não obedece mais aos meus anseios. Fraco. Debilitado pela doença e completamente tomado pela medicação, teima em desobedecer-me à vontade, mesmo quando esta, contumaz se agiganta para tentar cumprir as necessidades básicas vitais.
Nestes dias a desesperança apossa-se do meu ser mais profundo. Vale-me a bondade, a gentileza, a vontade e o préstimo da minha vizinha Cremilde, que amiúde vem averiguar das minhas precisões. Amparando-me quando as pernas me abandonam e alimentando-me, com caldos, chás ou água, conforme o meu estômago os intente reter.
Agora, aqui prostrado, quase vencido pela extenuação, olhando o telhado de telha vã, companheiro de tantos anos, onde as esteiras de canas, os barrotes de madeira e as telhas de canudo em barro, se configuram como as amizades sólidas de uma vida, vem-me à memória uma das muitas histórias que o tÓ mAnÉ sonhava e que de vez em quando, comigo partilhava.
Esta, em particular, contou-ma quando, num passado recente mas, que agora deitado neste enxergão feito de palha, e olhando para trás se afigura longínquo, nos encontrámos num atalho que levava ao campo de futebol, em barro vermelho, no, mal conservado, parque da vila, e junto ao tanque dos peixes vermelhos da casa do Pombal, onde morava o Ezequiel “perninha marota”, coxo de nascença, e guarda do parque.
Junto ao tanque há um salgueiro monumental, que guarda as redondezas, e em cujos, incontáveis, braços saltitavam, de ramo em ramo, ou esvoaçam efectuando temerárias acrobacias aéreas, para, acto imediato, regressarem a um galho qualquer, uma catrefa de chapins, na busca incessante dos insectos, seu alimento predilecto, que por ali proliferavam.
Sentados na bordadura de pedra do tanque, entre o canal de entrada de água, provinda da nora gigantesca existente na casa do Pombal e que vinha por gravidade através de um aqueduto de arcos, elevado, até ao tanque, e as pedras de lavar roupa, observávamos, atentamente, os movimentos aleatórios dos peixes, enquanto lutavam para sugar as bolinhas de miolo de pão que íamos soltando, aos poucos na água, para os atrair.
Num silêncio escrupuloso, guardávamos o momento que vivíamos, apenas a musicalidade extraída da natureza ousava irromper no plácido recanto. Por isso, foi com surpresa que a voz do rapaz quebrou a harmonia vigente. Manifestando-se como um estrépito dissonante na quietude residente.
- Ontem sonhei a história da morte, ela assemelhava-se a uma vela prenhe pelo vento de onde se desprendiam braços elásticos em forma de manga de vento que terminavam em mãos como pratos gigantes de balança de onde se dependuravam dedos pegajosos como tiras apanha-moscas, munidos na sua parte terminal de agulhões venenosos como os bicos de certos cactos dos desertos mexicanos.
E, solene, continuou.
- Saiba vossemecê que ela não dorme, como, também, a ela ninguém escapa, não adianta escondermo-nos, pois ela irremediavelmente acabará por nos encontrar. É esperta que nem um alho.
Não lhe encontrei olhos, pelo que fiquei na certeza de que é cega, pois só assim se justifica que não escolha quem pega, levando, sem critério ou piedade, do bebé ao velho. É cega pois e, se dúvida restasse, veja-se como ela deambula pelo mundo fora: Perdida. Aos apalpões. Arrastando consigo, na sua viscosidade asquerosa, todo o ser vivo em que toca.
Voltou a imperar o silêncio e concentrado no vaivém dos peixes, insistiu.
- Olhei-a bem, muito bem e, também, não lhe divisei orelhas nem boca, pelo que presumo que seja surda-muda, também. Ela não ouve os gritos de socorro dos aflitos nem as súplicas dos doentes, tão pouco as angústias das gentes e entes, como também não fala, pois nunca nada tem para dizer, apenas chega pega e leva, tão pouco come, limita-se a arrastar os corpos dos infelizes que agarra, na sua teia viscosa e peçonhenta, para alimentar a terra e o mar. Pergunto-me se não serão seus filhos e se não terá, por isso, a obrigação de os cuidar e sustentar?...
A morte é um ser hediondo, um mastodonte insaciável, disfarçado, sob a capa, de uma mulher bonita e caprichosa, que seduz as suas vítimas pelo encanto enganoso da sua aparência, tal como as sereias seduzem os marinheiros incautos com seus cantos.
E voltou a calar-se, fechado num aspecto taciturno e numa contemplação longínqua, como se estivesse a idealizar todo o panorama fantasmagórico que até então tinha descrito. O que me fez pensar que a conversa tinha por ali ficado ou face ao teor da conversa, morrido por ali, mas não.
- Fique vossemecê a saber que Deus e o Diabo são irmãos. São os filhos ilegítimos da morte. Faça cuidado, faça muito cuidado.
E, tal como começou, a conversa sobre o sonho da história da morte, finou: Com os olhos atentos do rapaz aos círculos intermináveis que os peixes vermelhos descreviam sob a água límpida do tanque da casa do Pombal.
Capitulo IX – O gato pardo e o melro de bico amarelo
Demasiado fraco para me suster só, e faltando as forças à Cremilde para me servir de valência, fui levado de ambulância para o hospital, onde iria encontrar a solidão e o meu leito de descanso final.
Há muitos anos que vivo só, todavia nem sempre assim o foi. Apesar de cedo ter sido atirado nos braços duros da vida, encontrei a felicidade, no papel importante que desempenhei, e fui feliz com a família que ajudei a criar.
Encontrei mulher. Deixei pais e irmãos. Constitui família, que sustentei com a mesma alegria e felicidade com que já o fizera.
Como vos disse nem sempre vivi só! Todavia a vida, foi-me levando, aos poucos, os pais, irmãos, a mulher e os filhos, uns porque Deus assim o quis outros porque se perderam pelo mundo.
Naqueles tempos o pão de cada dia era uma bênção quando o havia e, muita gente, jovem e menos jovem, viu-se na obrigação de partir. Juntavam-se aos magotes nas encruzilhadas dos caminhos e em azinhagas recônditas, em noites escuras e muitas vezes tempestuosas, com o intuito de ludibriar os agentes da lei, e guiados por quem sabia e que, para isso, eram bem pagos. Chamavam-lhes contrabandistas, e ajudavam a passar a salto as fronteiras, rumo a países distantes para fazer ou refazer vida.
Foi desta forma, que uma noite, os meus dois filhos, ainda rapazes, depois de reunirem os parcos haveres, seguiram caminho rumo ao estrangeiro. E, assim, a vida os eclipsou do meu olhar para sempre.
Aqui, deitado, aguardo paciente pelo meu último halo, pelo estertor final de uma vida. Sem estar triste, também não estou feliz, pois vivo de recordações, enquanto vegeto neste catre.
Não vi mais o tÓ mAnÉ, tão pouco queria que ele me visse assim, decrépito. Mas, hoje, pela manhã, lembrei-me dele, do dia em que o encontrei pela primeira vez e da primeira de todas as histórias que ele sonhava e por vezes me contava. Neste instante, até parece que o estou ver e a ouvir.
- Anda a querer comprar a morte. – Dizia ele referindo-se ao melro de bico amarelo.
- Porém, de uma forma ou de outra ele sempre escapa aos ataques, ardilosos, do gato pardo. Esta animosidade dura há anos e, olhe que não sou eu que lho digo, mas fazendo fé no canavial, na salamandra, na rã e na raposa que tanto ri como chora e que também já tentou abocanhar o velho melro, tudo começou com uma aposta e, isto das apostas ninguém as quer perder e, quer um, quer outro são tortos que nem garroches.
Dito isto deixou escorrer uma gargalhada límpida e cristalina e, de imediato retomou a narrativa.
- Todos os dias o gato, pleno de artimanhas, se esconde junto ao colo da fonte, nas margens frondosas do pego, onde por seu turno o melro vai beber duas vezes por dia. A aposta, consiste na troca da carne pela água, ou o mesmo será dizer a escolha entre a vida e a morte, duas vezes por dia, cada um usando das habilidades que Deus lhes conferiu.
O gato, que é um matreiro, espera pacientemente, bem camuflado, que o melro se desmazele enquanto bebe e, por sua vez o melro que é fino e destro, aparece sempre de lado nenhum, sobrevoa o pego, e pousa sempre em lugar incerto, bebe e alça voo de imediato, guinchando de júbilo e gozando com o focinho do gato.
Diz a raposa, que ri porque não tem porque chorar e chora porque não tem porque rir, que certo dia o melro pousou muito perto do esconderijo do gato e este, rápido como um raio, lhe saltou em cima, no momento em que aquele levantava voo, arrancando-lhe parte das penas da cauda. Nesse dia, o melro, soltou um chilreado agudo, de puro pânico que fez o coração dos presentes gelar.
Confiante na sua vista apurada e na sua destreza aeronáutica, o melro descurou os dotes do gato, que ano após ano, pacientemente, foi estudando, detalhadamente, as manobras de diversão do pássaro, tal como, esqueceu também o adágio popular que diz: Devagar, devagarinho se leva a água ao moinho. Desde esse dia que a rivalidade aumentou, raiando o limiar da loucura, nesta luta sem quartel, nem fim à vista e, que tornou, para os habitantes deste paraíso, o local num autêntico inferno, neste jogo do gato e do melro.
Quando ali estive pela primeira vez, ouvi as queixas dos seres ali residentes e, por fim resolvi assistir ao brutal confronto. Nesse dia foi por um triz que a carne não ganhou à água.
Então, decidi que iria pôr termo à aposta, ao jogo e repor a paz e a harmonia no local. Bem pensado melhor feito e, foi o que vossemecê assistiu. Penso que está a perguntar aos seus botões o porquê da punição ao gato pardo. A resposta é simples: Semelhante pedrada na orgadura do melro de bico amarelo, tinha-o atirado desta para a melhor. Imperou a lei do mais forte.
Aconcheguei o lençol. Limpei o rosto suado. E, não pude evitar, um ataque profundo de tosse que atrás dele trouxe outro e outro,…
Nesse fim de tarde, quando a enfermeira veio trocar o frasco de soro e ministrar a medicação, encontrou sob o lençol o meu resto, o meu fato terreno, a minha casca vazia…
Posfácio
Como devem ter reparado, quando conheci o tÓ mAnÉ eu era um homem entrado na idade, só e reformado, que passava os seus dias a estragar o tempo disponível na procura de coisas e loisas, que me inventassem e instigassem a vontade de acordar do pesadelo contínuo que é reinventar o dia seguinte. Hoje, enquanto narrador desta aventura, sou o espírito do homem que se finou feliz e, encontrou na morte, não aquela morte de que o tÓ mAnÉ sonhou a história, mas sim aquela que nos recorda que pura e simplesmente deixámos de viver, a razão de viver o objectivo de fugir ao mal-entendido que é a ausência de estar com tudo aquilo que amamos quando de facto tudo o que nos ama está sempre connosco. Por isso aqui estou, outra vez como intruso contando as histórias que um dia um rapazito me fez sonhar, servindo de trompeta de aviso ao futuro, para os mais desavisados e incautos, soprando alto e em bom som: Não se esqueçam de viver. Vivam! Revivam! Rebentem de viver! Pois há quem ainda que vivo morra, muito antes mesmo de viver, para só depois vir de facto a morrer. São os vivos mortos que vivem com uma única finalidade: Infernizar a felicidade dos que possuem a dádiva do que é fácil, do saber e do deixar viver.
tÓ mAnÉ
Epílogo
Hoje, defunto que sou há muito, o tÓ mAnÉ, por certo, é um homem de meia-idade. Indago se ainda continuará a contar aos seus filhos e netos que quando era menino, ainda que acordado, sonhava histórias de sonho?
Eu, bem… perdoem-me, a falta de educação, pois nunca pude estudar, era assim naquele tempo, e cedo comecei a trabalhar para ajudar no sustento dos meus oito irmãos.
Dizia eu que,… eu fui o Zé Coelho, também conhecido por Ti Coelho! O homem que ouvia, atento, deleitado e sonhador, as histórias do tÓ mAnÉ, o menino que sonhava histórias.
tÓ mAnÉ
2014.04.20
Fim
Subscrever:
Mensagens (Atom)